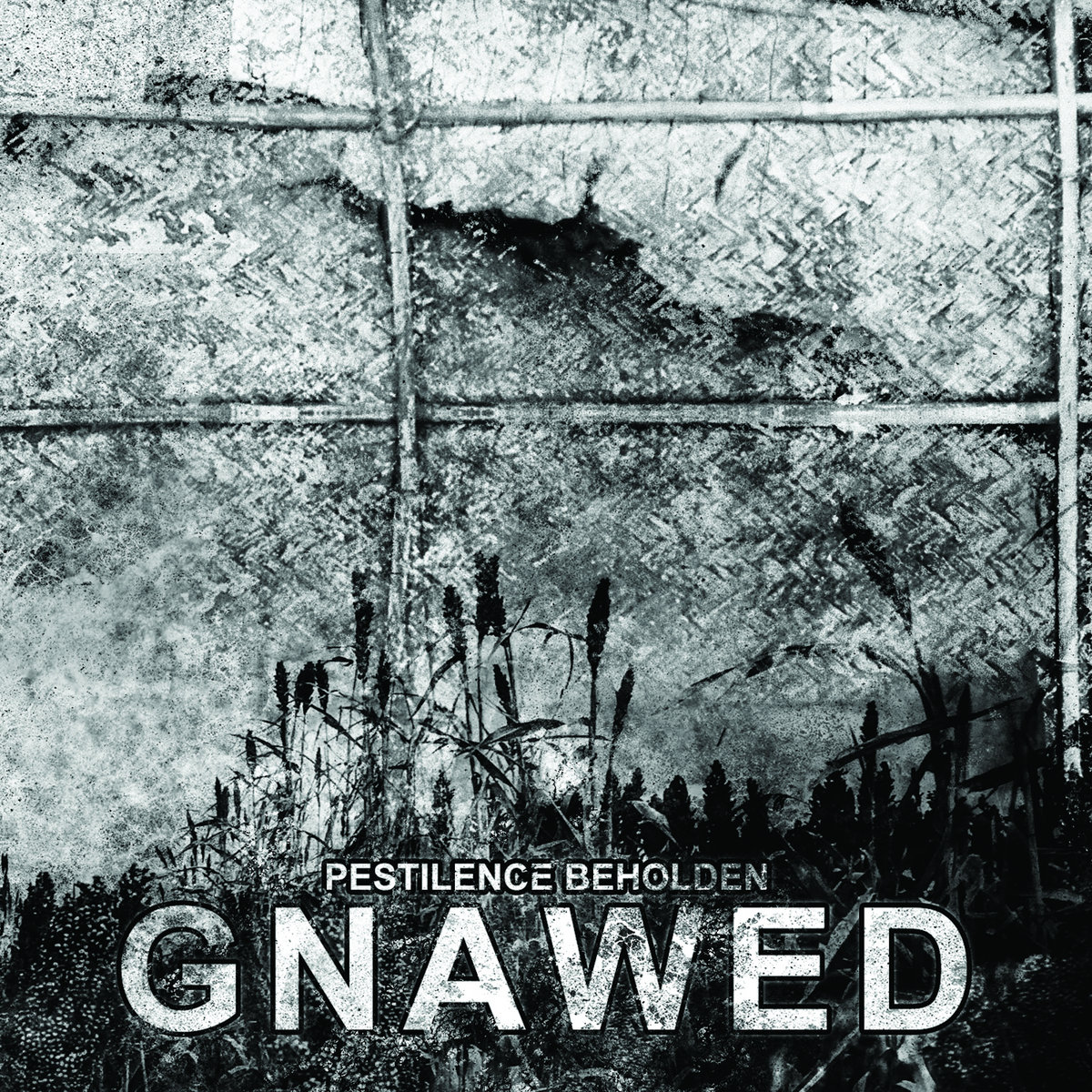"Em vão espero
as desintegrações e os símbolos que precedem
o sonho"
- Jorge Luis Borges
Há alguns álbuns que, mesmo em
pleno 2014, época que temos milhares de ramificações e toda hora tentamos
encontrar um novo rótulo para uma nova mixagem sonora, simplesmente nos
instigam. Basta ouvir os primeiros riffs
para sensação de inquietude ser plantada pelas várias disseminações. E é triste
constatar que estéticas com tamanha propriedade fiquem confinadas em certos
subnichos. O sonho sugerido na frase que acompanha a arte do disco vem embalado
em fragmentos. Integrantes díspares de um mundo fascinante. Doces linhas
melódicas que nos levam a outro estado. Um balanço entre experimentações
sonoras que afogam o ouvinte com linhas harmônicas mais clássicas que ficam se
repetindo em nossa mente.
E a evocação de uma imagética
toda distinta é realmente uma das maiores forças de Mobius and the Healing Process. Mas tem mais.
 |
| Mobius
and the Healing Process [2014] |
Gêneros que exploram a guitarra,
como o shoegaze e o post-rock, tendem já a me deixar bem
animado. Interessante como eles se diluem aqui, o que é uma amostra da grande
carga emocional que acompanha as quebras de tempo, as paredes sonoras. Somos
catapultados a um estado permanente de transcendência onde o dialogo com o
imaginário constante inibe a racionalidade pura, relegando a um terreno secundário.
O This Lonely Crowd tem algumas influências nítidas, mas tudo conflui
para uma abordagem estética própria, um ambiente de “sonho”, como o A Silver Mt. Zion construiu esse ano. Os
intervalos em que as mudanças ocorrem apontam para a parte mais horrível dos
devaneios, vulgo pesadelo. Uma demonstração está em Forlorn Hope, onde o vocal é praticamente doentio e as distorções
crescem com a bateria e a frase “you have no idea” ressoa, com suspiros
entrecortando. Esse paralelo com a banda do Efrim
também estabelece a pluralização dos conceitos que tanto esse álbum como o Fuck Off [..] apontam, partes mais bonitas
e harmônicas em contraste às desilusões profundas numa intensa paisagem sonora.
O estilo imputado pelo Lonely Crowd é como uma reunião de
vários fragmentos de diversas orientações sonoras. As afinidades transitam pelo
rock alternativo, músicas mais riffadas,
tempo lento e atmosfera obscura, texturas mais sonhadoras e suaves. Mas essas misturas
soam naturais sendo que a miscigenação fica no plano secundário, o que dirige a
sonoridade são as emoções. Os próprios títulos das faixas indicam isso. Lógico
que comparações surgirão, pelo fato da banda transitar em um vasto terreno,
sendo muito semelhante ao que tem se chamado de blackgaze. As músicas são utilizadas como iminências no transito
poético, onde momentos pequenos revelam a fresta- de alívio, dor,
tranquilidade, solidão- que é a camada mais profunda da sonoridade, subterrada
por frases de guitarra, distorções e melodias que se entrecruzam e dissipam
quase imperceptivelmente.
A ambiência onírica é levada ao
extremo, através de uma história cujas emoções são potencializadas tanto em
termos líricos como sonoros. Interessante a distribuição das faixas, como cada
uma simboliza algo, ao mesmo tempo em que há uma ligação bem forte entre elas.
São pequenas partes individuais que criam todo transe, onde é impossível
escapar e ainda assim sentimos diferentes sensações. São impressões artísticas
reveladas nas mudanças de andamento, em uma microfonia ou harmonia- ou até
mesmo racionalizações sobre salvação, contemplação e cicatrizes- é um espaço vasto
explorando temas entre o amor e a morte iminente.
Em Mobius and the Healing Process, o This Lonely Crowd nos contempla com infusões profundas em diversos
aspectos sonoros. Na produção contemporânea acelerada, onde muitos falam que a
música está em ruínas (e não dizem isso há cinquenta anos?), essa banda
consegue um verdadeiro sucesso estético ao resignificar distintas abordagens em
um ambiente tão transbordante.
-
Como evidenciado acima, eu gostei muito desse disco, e pedi uma entrevista com a banda. Eles foram muito gentis e aceitaram fazê-la, dando respostas bem esclarecedoras sobre a produção do álbum e outros assuntos importantes relacionados à música independente, influências, etc:
(This Lonely Crowd é: Bubba the Panda: guitarras, Cyrus the Brewer: guitarras e
voz, Teeth: voz e guitarras, King Thrushbeard: baterias, White Queen: baixo e
voz)
Quais são as principais
mudanças entre o Pervade e o Möbius?
Teeth:
primeiro de tudo, o Granamir, nosso baterista anterior, saiu do TLC por motivos
geográficos/trabalho. Daí convocamos o grandioso King Trushbeard, que além de
ser amigão nosso de longa data, já havia tocado várias vezes comigo, há muitos
anos atrás. Ele também chegou a produzir algumas faixas do nosso disco só de
sobras, o Doppeldanger. Na verdade, ele (King Trushbeard) não sabe, mas quando
a gente estava montando o TLC, do meio pro fim de 2009, íamos convoca-lo, só
que ele estava apurado e nem fizemos o convite.
White
Queen: esse é de longe nosso disco mais temático. É uma estória só, uma fábula
contada em capítulos. É o nosso disco mais extremo: fúria e esperança, dor e
conforto! Têm muitos detalhes, mais do que de costume.
King
Trushbeard: Pra mim foi um prazer entrar na banda no comecinho de 2013. Topei
logo de cara o convite, estava precisando tocar, aquela coisa engasgada, tinha
que voltar a tocar bateria. Já respeitava muito os trabalhos anteriores da
banda e tinha uma amizade muito grande mesmo antes de ensaiarmos juntos.
Cyrus: O Möbius
não existiria se não fossem alguns conceitos criados na época do Pervade. The Fugue, música do Pervade,
tem muito do que é o Möbius como um
todo. A principal diferença é que com o Möbius
conseguimos realmente visitar um caminho experimental que sempre foi vontade do
TLC abordar, com bastante calma e tranquilidade. O Möbius também marcou alguns problemas internos de saúde dentro da
banda que invariavelmente entrou no processo e por fim fortaleceu o conceito.
Bubba
The Panda: Na minha opinião o Möbius representa um amadurecimento musical da
banda. Ficamos muito contentes com o resultado final do disco e principalmente
com esse caminho experimental que o Cyrus comentou. É o meu disco favorito!
Influências de post-rock/shoegaze estão presentes em
sua música, mas também incorporam muito mais. Quais outros estilos que vocês
também recorrem?
Cyrus: A banda foi formada por ‘metalheads’ na
grande maioria, mas a gente homenageia muito as bandas de guitarras interessantes
dos anos 90. Não descartamos nada, mas instintivamente os sons são levados para
esse lado.
Teeth: Bom, nosso negócio é Rock. A gente sai
misturando tudo o que nos agrada, dentro do Rock. E o som pesado é o foco, na
maioria das vezes. O metal, desde a NWOBHM até o death metal é algo que
adoramos usar de referência. O shoegaze e do post-rock são estilos que
trabalham ambiência e construção de climas e usa-los junto é muito instigante.
Falamos certa vez, em outra entrevista, que seguíamos uma bússola: pra um lado,
o metal, pro outro o experimental, pro outro o shoegaze, e pro outro o
post-rock. No Möbius, essa bússola ficou maluca, girando de um lado para o
outro sem parar, hahahahah...
King
Trushbeard: Eu sou a ovelha negra da banda. Acho que sou o único que gosta de
um pop descaradamente. Ouça o começo de Feeding e me diga se não vai entrar um Air
logo em seguida; essa foi a minha intenção na escolha do kit
para bateria e da mixagem.
White
Queen: ahh, mas nós devemos muito ao Pop. Sempre colocamos um pezinho lá, senão
seriamos só uma banda instrumental. A voz incorpora muito disso, mesmo sabendo
que a gente não usa refrões. É legal reverenciar isso também, pois acaba combinando
bastante se você usar como um ‘tempero’.
A sonoridade da banda,
junto com o excelente trabalho de arte, nos remete a outras artes, como
literatura, áudio visual. Como essas estéticas influenciam a banda e quais
artistas mais lhes influenciaram no processo de criação do Möbius?
Teeth:
a gente sempre começa um disco pelo conceito, e esses conceitos sempre vão ser
‘vestidos’ pela parte literária. Ao longo do desenvolvimento das ideias e tal,
acabamos incorporando mais inspirações, como alguns filmes. Isso é decisivo
para o TLC existir. Inicialmente, só fazíamos música inspirada em contos de
fadas, mas expandimos para fábulas para toda e qualquer idade. Têm centenas de
autores adorados, alguns clássicos e outros nem tanto. Para o Möbius, o próprio
nome denuncia: tem o Mœbius,
desenhista/quadrinista francês falecido em 2012, e sua obra maravilhosa. Tem a
fita de Möbius, que é um objeto matemático usado na construção do álbum. E
autores como a Sylvia Plath, que tem uma música inteira só dela, o Neil Gaiman,
o Clive Barker, Jorge Luis Borges etc etc etc...
White Queen: e a arte do Julian Fisch, nosso sexto
membro, responsável pela arte nos discos desde nosso primeiro álbum cheio.
Algumas vezes, ele até dá dicas para as músicas. Nesse disco ele participou
bastante, porque ouviu várias versões antes da final e ficou sugerindo mexer em
um monte de coisa.
As distorções e paredes
sonoras são realmente incríveis. Por favor, como vocês se aprofundaram em seus
instrumentos e como aprenderam a usar pedais, etc?
Cyrus: Nós sempre fomos guitarristas com essa base
no metal, totalmente pé-rapados, sendo que nosso ápice era conseguir uma
distorção medieval qualquer. Eu inclusive montei uns pedais fuleiros na fase
pré-TLC. Com nossa vida profissional melhorando, conseguimos melhorar o set aos
poucos e, entendendo nossas necessidades, posteriormente cada um se especializou
de forma natural nas suas preferências. No TLC, principalmente ao vivo, pode-se
perceber que cada um possui seu estilo e pode exercer esse papel com total
espaço, mas dá pra perceber que nossa habilidade foi criada nessa época com
poucos recursos.
Teeth: poxa, a gente fica até com vergonha de falar,
pois parece que dominamos o negócio quando na verdade somos guitarreiros de
várzea. Trabalhamos muito, muito sério para o som ficar potente. Como o Cyrus
falou, cada um tem seu papel e geralmente nos revezamos na hora de definir quem
faz o que. Se não tomar cuidado, tocar com três guitarras pode virar um fiasco.
Sempre colocamos um desafio novo, seja um solo, um efeito, uma troca inusitada
de pedais, para continuar estudando o que fazemos no TLC. O uso de pedais para
a gente é tentativa (MUITAS) e erro. Para gravar, simplificamos a cadeia e
deixamos o mínimo possível, até para poder mexer na pós-produção, o que às
vezes acontece com as ambiências. Ao vivo, montamos os sets de pedais com
loopers para não misturar demais e perder sinal. Tem uma regrinha simples que a
gente segue, que é de usar distorções em 3 degraus: um low gain, um high gain e
um fuzz estourado. Quando estouramos em uma faixa, é porque subimos essa
escada. Pedais mais extremos (e pouco versáteis) como o Fender Blender costumam
entrar por um dos canais do looper com o mix lá pela metade, pra não embolar. É
assim que fazemos desde o começo, só fomos ajustando uma coisa ou outra com o passar
do tempo. E muito divebomb também...
King
Trushbeard: Na Locked-Inn eles me
colocaram na parede. Eu tive que aprender a tocar o famoso blast beat, que vem lá
do death metal, algo quase insano mesmo. É uma zona que eu não estou
acostumado, mas confesso que no fim foi bem divertido de tocar. Demorou algumas
semanas pra eu pegar o tempo. 240bpm. Coisa de Derek Roddy! hehehhehehehe Na
realidade, pra mim, tocar com o TLC foi reaprender muita coisa no geral e sair
um pouco da minha zona de conforto. Tem alguns desafios bacanas que só me
fizeram crescer.
White
Queen: é bem isso, sair da zona de conforto e ter sempre um desafio. Nos
primeiros EPs, eu não usava nada. Hoje, uso uns 5-6 pedais, só pra arredondar o
timbre. Mas não entendo disso, os meninos regulam pra mim!
Bubba
The Panda: Um dia eu acho que ainda vou aprender a usar os pedais...hahaha. O
mais interessante é que nunca estamos totalmente satisfeitos com o nosso set e sempre
tentamos aprimorar, acaba virando um vício. Hoje toco com no mínimo 10 pedais e
não me vejo tocando com menos. Quero ver daqui a uns 5 anos!
O que os inspira a criar
música? Como Curitiba está envolvida em seu processo criativo?
King
Trushbeard: Pra mim a inspiração não pode ser planejada. Não consigo pensar em
algo que me inspire, aí de posse desse "artifício" eu resolvo sentar
e compor. Não. Acho que são muitas coisas que me influenciam, melhor dizendo.
Acho que a maioria das vezes eu começo de maneira pessimista até, como se não
fosse sair nada... E das 277 vezes, 2 delas eu consigo aproveitar e me divertir
bastante. Bom, Curitiba, do ponto de vista de incentivo por parte do estado à
cultura em geral, é péssima, lamentavelmente. Cerca de 70% da população gosta
de futebol. Acho que uns 20 a 30% consomem e vivem outro tipo de cultura na
nossa cidade. Acho que uma coisa puxa a outra. É bom você ir assistir uma peça
de teatro do seu vizinho, ou ir num show de uma banda de um amigo. Acho que
isso incentiva de certa forma e também muda a maneira como as pessoas criam
arte.
Cyrus: Curitiba está envolvida em fornecer o clima
frio que nos faz ficar dentro de casa compondo!
Teeth: criar música é uma das coisas que me faz
sentir vivo. Simplesmente não consigo me privar disso. Curitiba é uma cidade
diferente das outras capitais do Brasil e o clima frio realmente nos dá mais
vontade de compor.
Como é foi que ocorreu a
seleção das faixas que entraram no Möbius e como foi o desenvolvimento delas?
Teeth:
nossa, agora não vou mais parar de falar, hahaha. Sobrou MUITA coisa. A seleção
foi feita em função do todo, do disco ser uma faixa única. Algumas coisas
ficavam boas sozinhas, mas ruins ali no meio. E vice-versa. Como é um disco
extremo, o risco de ficar uma obra inconsistente ou heterogênea demais foi uma
sombra sobre nós. Mas eu acho que acertamos. Houve músicas que saíram prontas
já de cara, como Gentle (a primeira que fizemos para o disco) e a The Greatest
Possible Solitude. Outras foram simplesmente descartadas e devemos retrabalhar
para ir lançando. E outras foram modificadas até chegar à versão final. De
outubro até março, ficamos lapidando, lapidando, ouvindo o disco como uma faixa
só e tirando as partes que não estavam nos convencendo. O Julian Fisch ouviu
várias versões e colaborou bastante comentando e sugerindo modificações. A
Feeding é um dos bons exemplos de faixa modificada, onde era uma música meio
linha-reta que o Trushbeard pegou e jogou dinâmica e uma intensidade
maravilhosa. A Sleepers Among Petals era totalmente diferente, tinha umas
partes malucas, contratempos, solos esquisitos e passagens que cortamos para
deixar só o miolo. O Cyrus falou, ‘tem que ter o solinho-fill na parte pesada,
de tal jeito, senão não vai rolar’. Deixamos só o começo (leve) e o fill
(pesado) e o negócio ficou legal. Cada música tem uma história, que nem capítulos
de um livro.
White
Queen: a Aphorisms, a Sleepers e a Some infinite Longing foram as últimas a
entrar. A última faixa era totalmente diferente, mas acabava igual. Por isso
chamamos o um minuto e meio final do disco de Healing Team, pois isso não mudou
e está desde as primeiras versões para encaixar com a faixa de abertura.
Quais os próximos planos
da banda?
King Trushbeard: Eu
gostaria muito de tocar no Uruguai, no Estádio Centenário.
Teeth:
olhai, boa ideia. Vamos fazer mais um show nesse ano, em Curitiba. O Elson, da
Sinewave, que é nosso irmãozão, quer que a gente toque no Sinewave Festival de
São Paulo. Dessa vez, é muito viável. E vamos gravar muita coisa ainda. Estamos
articulando um split com o Sorry Shop (RS), mas os detalhes são surpresa.
Como está a cena musical
de Curitiba?
King
Trushbeard: Muitas bandas falam que tá ótimo, muitos falam que tá horrível. Não
sei se é uma tendência nacional, mas aqui os bares estão abrindo espaço pra
bandas covers. É um ciclo vicioso. Uma boa parcela do público, mais da metade,
gosta muito de dançar sua música favorita na balada. Então os donos de bares,
que não são bobos, incentivam cada vez mais a molecada que tá começando a pegar
sua primeira guitarra a montar uma banda cover e fazer uma divulgação como se
fosse a real banda que fosse se apresentar no lugar. E esse ciclo parece não ter
fim. Existem muitas bandas daqui excelentes, e muitas ruins. É comum em todo
lugar. Existem também aquelas que se agilizam, correm atrás, viajam, fazem
shows regularmente. Bacana, mas há também uma decepção de todos os envolvidos
pela falta de ritmo de festivais, casas noturnas organizadas e com fins
lucrativos. Sim! A música é um negócio. Acho que muitos músicos acabam dando um
tiro no pé quando tocam de graça e os bares se aproveitam mais ainda disso. Estamos
só pensando no dia de hoje, sem planejar algo maior para Curitiba. Toda cidade
deveria ter um plano pra 5, 10 anos. Enfim, acho que aqui em Curitiba tem
muitos músicos tentando levar uma carreira musical profissional, e de certa
forma até conseguem, mas como BANDAS AUTORAIS acho que são poucas as que
insistem e conseguem sobreviver disso.
Cyrus: Não sabemos mais, está tudo muito disperso...Pouquíssimos
lugares para tocar, pouco apoio, mas não dá pra reclamar da cidade pois é um
reflexo geral do país e da música em geral. Mas mantendo o clima altruísta da
pergunta, se você questionasse o cenário
curitibano das cervejas artesanais eu saberia responder bem melhor! A
Bodebrown, a melhor cervejaria do Brasil por 2 anos consecutivos, além da Way,
Morada, Dum, além de outras despontando como a Death by Brew, Ogre, entre
tantas outras...
O quanto vocês mudaram
como músicos e pessoas desde Some Kind of Pareidolia para o Möbius?
Cyrus: Não muito, na verdade. Mantemos os mesmos
trabalhos e não somos pessoas que estudam música como prática ou teoria.
Estamos apenas melhores em projetar as imagens da mente em forma de música,
dando mais espaço para os vazios e deixar a música respirar melhor e sem
restringir o caminho do som, nem que o som se torne por consequência um metal
extremo!
White Queen: estamos um pouco melhores ao vivo,
menos envergonhados. O King Trushbeard nos ‘profissionalizou’ demais e isso
teve um impacto muito forte na qualidade dos nossos shows.
Teeth: São 3 anos entre esses discos, então acho que
o nosso aperfeiçoamento é exatamente esse que o pessoal falou. Mas isso
acontece para todo mundo, não é? Vamos ficando mais ‘sábios’.
Bubba
the Panda: Acho que toda mudança é lenta e gradativa, mas com certeza houve
melhora na criação e na execução. O que chama mais atenção nos últimos 3 anos é
a maior tranquilidade de tocar ao vivo, como a White Queen comentou.
A banda, às vezes, tem
bloqueio criativo?
Teeth:
acho que não. Não precisa todo mundo colaborar em todas as músicas, tem músicas
mais de um, mais de outro... Quando um cansa, o outro assume. Então pode
acontecer de ficarmos uns 2 meses sem gravar nada útil e de repente sair em um
final de semana umas 5 faixas boas. Ou ainda, quando estamos esgotados,
procuramos nos arquivos riffs antigos e tal e recriamos para ver se o negócio
vinga.
White
Queen: Nunca!
Quais bandas são seus
remédios?
King
Trushbeard: Geralmente bandas novas ou discos novos. Não gosto muito de me
"curar" com músicas antigas. Pra eu abrir um sorriso basta eu me
conectar no youtube, digitar algumas bandas e ver os relacionados. Começam a
aparecer cada coisa nova ANIMAL que cura qualquer tristeza minha! Tem muita
coisa boa sendo criada e muita coisa boa sendo recriada. Adoro novidades.
Teeth:
hoje em dia, quase não escuto banda grande. Só coisa independente. Das grandes,
tenho escutado o que já escutava antes, de 1970 até 1999. A grande maioria das
bandas famosas dos anos 2000 inexiste na minha biblioteca.
White Queen:
Depeche Mode. Bowie. NIN.
ABBA!
Vocês ainda ouvem as
bandas que vocês estavam ouvindo quando começaram na música?
King
Trushbeard: Não tenho vergonha nem me esqueci das minhas bandas favoritas. Cada
vez mais tenho a vontade de agregar mais influências, é um instinto de
curiosidade que nunca tem fim. Até porque eu já ouvia música antes de começar a
fazer música. Minha influência vem muito dos discos que meu pai ouvia. Meu pai
gostava muito de Funk, Soul Music, Jazz (várias vertentes) e posso dizer que
até hoje eu gosto disso, e muito. Mas é claro que o jazz é mais difícil de
lembrar na infância, o mais natural é lembrar-se das músicas pop e eu tenho uma
veia muito forte pra esse estilo, principalmente porque cresci nos anos 80
ouvindo tudo que tocava na rádio naquela época. A maneira de descobrir e a velocidade
com que se tem acesso hoje em dia mudou radicalmente MESMO. É até engraçado
olhar pro final dos anos 80 e 90 e lembrar como a gente descobria o nosso novo
ídolo.
Cyrus: Sim, posso dizer por mim e por grande parte
da banda. Eu pelo menos ando destrinchando discografias de bandas que não tinha
dinheiro para comprar nos anos 90. A verdade é que depois dos 30 muito pouca
coisa realmente te impressiona..
Teeth: claro que sim! Uma das coisas que mais gosto
de fazer é ler uma biografia e ir ouvindo os discos de novo, um por um. Isso é
maravilhoso, dá outro sabor para a obra.
Bubba The Panda: Continuo ouvindo,
predominantemente, heavy metal...
Obrigado! Por favor;
deixem aos nossos leitores uma mensagem final.
King
Trushbeard: Paz e Bem.
Teeth:
Apoiem as bandas independentes. Cada vez que a Sinewave lança um disco ou faz
um show, uma banda cover do Jota Quest acaba, ahahaha. Brincadeira...
White
Queen: Saúde e prosperidade...
Bubba
the Panda: Não percam nosso próximo show... vai ser massa!
Cyrus:
METAL!
-